 Ontem a minha família passou um tempo discutindo o que faria diante de uma invasão alienígena no grupo do WhatsApp. As notícias de objetos não identificados vêm dos Estados Unidos, da China, do Canadá e do Uruguai. Meu irmão do meio disse que atacaria os invasores caso eles quisessem levar a minha sobrinha Bela. A minha mãe radicalizou e anunciou que o sonho dela é ser abduzida. Enquanto isso, eu só conseguia pensar que gostaria de substituir os seres humanos por extraterrestres. Diante da possível (mas improvável) invasão alienígena, percebi que não me sinto habitante deste mundo. Eu queria que o sentimento fosse de nostalgia. Como aquele tão bem descrito por Woody Allen em “Meia-Noite em Paris”. O estranhamento seria só temporal. “Deveria ter nascido na década de 20”, eu diria, “ou de 30 ou de 40”. Infelizmente, trata-se de sentimento mais extenso e profundo. O deslocamento tampouco é geográfico. É verdade que me sinto em casa em Lisboa (e que tive um choque ao sair de lá e voltar para os Estados Unidos na semana passada). Mas mesmo lá senti estranhamento ao meu redor. O deslocamento é em relação às pessoas. Talvez eu esteja despreparada para viver em um mundo que se tornou superficial em todos os sentidos. Vejam: eu cresci lendo. As minhas ideias sobre relações entre humanos e relações dos humanos com o mundo vieram todas dos livros de ficção e poesia que li desde a pré-adolescência. O menino do dedo verde chamado Tistu me mostrou muito cedo que pessoas queridas como o jardineiro Bigode e o meu avô Bolão morrem (o meu avô Bolão merece um conto – ou um livro – só sobre ele). Desde que li esse livro e perdi o meu avô percebi que, diante da falta de clareza sobre quanto tempo temos aqui, é preciso conhecer as pessoas profundamente. A literatura me ensinou a ser curiosa sobre o universo das pessoas. Até hoje tenho uma lista de coisas que queria ter perguntado ao meu avô Bolão. Do que ele tinha medo? Por que ele voltou para a escola para terminar o ensino médio com 50 anos? Ele chegou a amar a minha avó? Por que ele era tão sozinho? Era solidão ou tristeza? Nunca pude fazer essas perguntas. Como não tive tempo de conhecê-lo, tento conhecer cada pessoa que faz parte da minha vida. Já fiz zilhões de perguntas assim aos meus pais, irmãos, cunhada e os amigos que adotei como irmãos pela vida. É com essa curiosidade que consigo enxergar as pessoas ao meu redor – o que, para mim, é condição para qualquer tipo de relação. O problema é que no mundo há quase ninguém interessado em enxergar o outro. Esse processo é desconfortável porque exige vulnerabilidade. Eu não posso reclamar: para além da minha família, enxergo muito bem um pequeno grupo de amigos com os quais falo quase todos os dias. No ano passado, o meu hábito de esporadicamente sentar para beber sozinha em bares me presenteou até com um encontro desse com estranhos. Fiz uma viagem à Coney Island e sentei para tomar um mojito em um bar perto dos parques de diversão. Conversei com o homem à minha esquerda, que por algum motivo sabia tudo de cinema (depois descobri que ele tinha sido crítico de cinema do The New York Times), e o homem à minha direita, que era eleitor de Donald Trump e tinha o sotaque do nova-iorquino italiano. O homem do meio, o dono do bar, entrou na conversa (ele é casado com uma brasileira e conhece até o Lenine). Não sei bem quantas horas passei ali ou quantos mojitos eu tomei. Mas saí de lá com o meu universo mais expandido e bonito: consegui enxergar bem três estranhos em uma tarde de sexta-feira. De resto, olho para as pessoas como se elas fossem alienígenas. Ou como se fosse eu a extraterrestre. Tudo é rápido e transacional. Tudo acontece na superfície. Tudo acontece a partir da perspectiva do eu e não da perspectiva do outro. O deslocamento é esse: vivo em um mundo em que a maior parte das pessoas perdeu o interesse no outro. A empatia com o outro. O cuidado com o outro. E no espaço que os outros ocupam também. Pareço uma vitrola quebrada, mas o fechamento da Livraria Cultura e do anexo do Espaço Itaú em São Paulo reforçou esse sentimento em mim. O desinteresse pelo cuidado com as relações individuais é magnificado e se transforma na falta de cuidado com as relações coletivas. Não sei se haverá invasão alienígena. Muito provavelmente não, o que significa que os seres humanos não serão substituídos por extraterrestres. Para piorar, talvez a sensação de deslocamento se acentue em mim com o passar da idade. Essa semana uma amiga me perguntou o que eu faço quando o deslocamento incomoda. Fui discutir isso com a minha mãe, que me incentivou a acreditar em algo. Religião não é algo que faça sentido para mim. Eu prefiro acreditar na arte, em especial na literatura, na poesia, na música, na dança e no cinema. Quem escreve livros o faz por curiosidade sobre o ser humano. A minha ponte com o mundo eu encontro ali.
0 Comments
 Estava no aeroporto de Nova York quando li A Amiga Genial pela primeira vez. Nunca esquecerei a sensação de estranheza que senti quando pensei em Lila Cerullo desaparecendo do mundo aos 60 anos sem deixar registro de que existiu. Lila queria “volatizar-se, queria dissipar-se em cada célula, e que ninguém encontrasse nenhum vestígio seu.” Não deixou nenhuma roupa, nenhum sapato. Todas as fotos sumiram. O seu computador também. O objetivo de Lila não era só desaparecer. Queria apagar toda a vida que deixara para trás, como escreve Ferrante. O que leva alguém a querer se pulverizar dessa maneira? Se você não leu a tetralogia napolitana, sugiro que pare de ler este texto agora, já que trato de spoilers. Escrevi sobre a força de Lila Cerullo em outro texto. Não me lembro de ter lido sobre outro personagem feminino tão extraordinário quanto Lila. A amiga genial é ela. Lila nunca foi escolarizada mas sempre demonstrou capacidade de aprender qualquer coisa muito facilmente. Quando está apaixonada por Nino Sarratore, Lila lê livros e em pouquíssimo tempo está pronta para desconstruir o que ele pensa. Quando decide se dedicar à programação com computadores, não demora muito para que ela aprenda tudo a ponto de saber mais do que o seu companheiro Enzo Scanno, que estudava o assunto há anos. Se tivesse frequentado a escola e a universidade (como Lenù), Lila teria escrito livros como os de Ferrante. A inteligência dela é natural, quase fluida (invejo esse tipo de inteligência – o aprendizado para mim vem com muito esforço). E Lila sabe sobre as coisas da letra e do mundo. Ela inverte a lógica de onde mora usando os problemas e os vícios que estruturam o bairro. Usa os irmãos Solara como quer ao longo da série inteira, tornando-se ela mesma a figura que mete medo em quem mora ali ao final da série. Lila é também a personagem mais curiosa dos livros. Ainda criança, escreve um livro ao qual Elena Ferrante (infelizmente) nunca nos dá acesso chamado La Fata Blu. O livro abre a cabeça mágica de Lenù, praticamente tornando-a escritora. Ao final da série, Lila também decide estudar a história de Nápoles e traz com ela Imma, filha de Lenù e Nino. Lila absorve o significado de cada parte da cidade e passa-o adiante para Imma como se aquele fosse o conhecimento mais incrível do mundo (e de fato é). As páginas em que isso acontece me deixaram maravilhada. Diante do tamanho de Lila, da imensidão que ela materializa em forma de ser humano, como explicar que ela decida desaparecer? Há sinais ao longo da série que ela sempre quis fazer isso. Por exemplo, Lila recorta e reconstrói uma foto sua com o vestido de casamento a ponto de não ser reconhecida. Ela frequentemente fala sobre como vivencia um processo chamado dissolving margins, no qual as bordas que definem as pessoas e as coisas vão desaparecendo (preciso escrever um texto só sobre isso). Para mim, Lila quer desaparecer porque deseja profundamente parar de ser fortaleza para os outros – para a sua família, para o seu marido, para as pessoas do bairro, para Lenù, para toda e qualquer pessoa que depende da força que ela emana para existir. O desaparecimento para ela é sinônimo de liberdade. Mas o estopim que faz com que ela concretize o seu desejo é o sumiço de sua filha, Tina, no final do último livro. É esse o episódio que abre o espaço definitivo para o seu desaparecimento. Tina desaparece e não há sinal do que aconteceu com ela. Se foi roubada, se morreu. O desejo ao qual me refiro acima – a vontade de desaparecer para não ser fortaleza para os outros – só não aparece com Tina. Até Rino, o primeiro filho de Lila com Stefano, depende da fortaleza de Lila. Tina não. Com Tina Lila é leve. O desaparecimento dela torna o desaparecimento de Lila obrigatório. Lenù desonra a memória de Lila ao contar a sua história na tetralogia napolitana. Tudo o que Lila queria era a não-existência e os livros fazem justamente o contrário: eternizam Lila como a fortaleza que ela nunca pediu para ser. Lila passou a ser a fortaleza de milhares de mulheres. Lila merecia mais, mas talvez esse seja o fardo de mulheres-fortalezas: elas precisam ser imortais para se tornar fonte de energia e força para outras pessoas. As mulheres-fortalezas carregam o mundo. A decisão do STF que torna o orçamento secreto inconstitucional foi muito celebrada no Twitter esta semana. O uso das emendas de relator-geral pelos congressistas nos últimos anos (com o aval do governo Jair Bolsonaro) é realmente nefasto: ninguém sabe bem quem mandou quanto dinheiro, com qual critério e para onde usando a rubrica RP9. Mas a decisão do STF não necessariamente enterra a possibilidade de se criar outro arranjo no lugar. Este texto argumenta que o balanço de poder entre o Executivo e o Legislativo mudou nos últimos quatro anos, já que o Congresso sai do governo Jair Bolsonaro empoderado. Diante dessa alteração, é possível que o Legislativo busque alternativas para manter sua nova prerrogativa orçamentária nos próximos anos.
O fortalecimento do poder Legislativo começou em meados dos anos 2000. Neste texto para o Wilson Center, conto como esse processo se deu em três frentes. O Congresso ficou mais forte como formulador de políticas públicas, contrapeso ao Executivo e definidor de política orçamentária. Importante para este texto são as reformas feitas em 2015 e 2019, que tornaram impositivas as emendas orçamentárias individuais e coletivas. Tenho insistido que até 2019, o fortalecimento se deu de forma institucional. Quando Jair Bolsonaro resolveu abrir um canal de diálogo com o Congresso na metade de seu mandato, encontrou um Executivo desprovido do leque ferramental do qual dispunha antes dessas reformas. Bolsonaro também não distribuiu cargos para aliados partidários para montar base legislativa. Diante desse cenário, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado se apropriaram das emendas de relator-geral para distribuir recursos a aliados do governo. O arranjo do orçamento secreto fortaleceu o Congresso de maneira não-institucionalizada, informal, já que tudo era acordado nos bastidores. Bolsonaro também abdicou de suas prerrogativas legislativas, o que só acentuou esse processo. A decisão do STF não necessariamente significa o fim desse tipo de arranjo, principalmente no longo prazo. Há quem argumente que o Executivo agora pode usar a rubrica RP2 para montar base legislativa. Como me explicou o especialista em emendas orçamentárias Rodrigo Faria, o governo Bolsonaro não usou essa ferramenta porque não compôs ministérios com partidos aliados (a distribuição desses recursos está atrelada aos ministérios). Ou seja: esse arranjo não necessariamente foi testado neste último governo. Pode ser que as verbas via RP2 sejam úteis nesse momento, já que Luiz Inácio Lula da Silva distribuirá cargos ministeriais a partidos aliado? Pode. Mas a distribuição de cargos em si pode não ser suficiente diante da ânsia de poder de um Legislativo que se fortaleceu muito ao longo dos últimos anos. Notem que há dois processos paralelos acontecendo aqui. O primeiro é o aumento do poder orçamentário do Congresso. O Legislativo quer mandar mais no dinheiro. O segundo é a redução do poder de barganha do Executivo, como consequência de tudo o que discuto acima. Diante dessas mudanças, fica difícil entender como se dará o jogo a partir daqui. Sérgio Praça escreveu que o Centrão deve receber mais cargos de confiança. Certamente. Mas não há garantia de que isso segure a ânsia dos congressistas. Segundo o Estadão, o mais provável é que os R$ 20 bilhões previstos para a emenda de relator-geral no próximo ano sejam repartidos igualmente entre os ministérios e emendas individuais. A existência de um governo disposto a coordenar processos de formulação de políticas públicas e barganha entre poderes pode fazer diferença nesse sentido. Ao contrário de Bolsonaro, Lula dá sinais de que quer retomar o protagonismo do Executivo. Resta saber o preço que os congressistas cobrarão para que isso aconteça. Quando tinha doze anos, o meu melhor amigo, o menino pelo qual eu era apaixonada, com o qual passava tardes lendo gibi e jogando algum vídeo game que eu detestava (detesto vídeo game), disse que eu nunca seria uma mulher. O anúncio foi feito desse jeito, sem nenhum titubeio, no primeiro dia em que fomos ao shopping sozinhos. A nossa turma do colégio era razoavelmente grande. Nossas mães nos autorizaram a comer e passear por aquele prédio cheio de lojas e restaurantes a céu fechado. Nós passamos por uma loja de música que vendia fitas cassetes e ele lançou essa frase na frente dela, me capturando permanentemente. Ele ainda acrescentou que eu não tinha peito e nem bunda, era uma tábua lisa e, portanto, não era uma mulher. O que ele disse causou uma dor que eu sentiria diversas vezes ao longo da vida. Diante de sua pequenez como ser humano, resta ao homem nos diminuir. Foi isso o que aconteceu aquele dia no shopping.
Aconteceu mais uma vez com o mesmo melhor amigo quando nós fizemos cursinho para ingressar em uma escola técnica. Um rapaz sentado ao meu lado puxou conversa comigo. Ele queria saber mais sobre o livro que eu estava lendo. Era um rapaz de olhos castanhos curiosos. Foi a primeira vez que um homem se interessou por mim. Eu estava feliz por perceber que poderia, sim, ser mulher (ainda precisava da aprovação masculina) quando o meu amigo me cutucou e disse: dá para você ficar quieta? Eu emudeci. Ao final da aula, ele acrescentou: por que você não ficava quieta? Aliás, por que você está cheirando mal? Eu diminuí de tamanho. Será que eu tinha me esquecido de tomar banho? Durante o ensino médio, foquei exclusivamente no vestibular. Só estudava literatura, gramática, história, geografia, inglês e redação. Tive um namoradinho que eu mesmo dispensei porque precisava ocupar a cabeça com Clarice Lispector. Tive outro namoradinho que tinha medo de mim e não conseguiu nem me dar um beijo. A faculdade, entretanto, foi cruel. O meu primeiro namorado de verdade terminou comigo dias depois de eu questioná-lo sobre o porquê de eu não conseguir sentir o amor dele por mim (mais sobre esse figura abaixo). Tive muitos rolos e fui punida socialmente pelos homens por ser clara sobre o meu interesse, por dançar, por beber, por ser livre. Algumas mulheres me puniram também. Tive um namoradinho que sumiu um mês e terminou comigo no dia do meu aniversário porque (adivinhem) tinha medo de mim. Não deve surpreender o leitor deste texto que eu tenha me casado com um homem física e emocionalmente abusivo. A minha formação como mulher se deu a partir do julgamento masculino. Não havia o feminino dentro de mim sem levar em consideração o masculino fora de mim. Foram anos sofridos até o dia em que eu me libertei de tudo: do marido, do julgamento, do masculino como um todo. Fui livre, inclusive dentro de um relacionamento saudável. Encontrei um parceiro que quase me enxergou e que não me diminuía. Por ele ter quase me enxergado, tornamo-nos amigos. Mas mesmo ele me diminuiu. Foi com esse homem que eu aprendi a amar. Disse a ele como isso aconteceu. O que eu aprendi, ao que eu sou grata. Não houve resposta a não ser “sim”. Só eu aprendi, só ele me deu. Da não-resposta, do não-diálogo devo inferir que não deixei legado algum? O não-diálogo, aliás, foi como o meu primeiro namorado, aquele lá de cima, me diminuiu em um revival que nunca deveria ter acontecido. Ele se dizia apaixonado e fazia muitos planos. Houve um desentendimento e ele desapareceu. Será que eu inventei o relacionamento com ele? Não sei quantas de nós fomos moldadas na forma masculina, essa forma que insiste em nos diminuir, nos fazer de saco de pancada emocional, que nos deixa duvidando de nós mesmas. Talvez todas nós, de um jeito ou de outro, tenhamos sido moldadas assim. Isso aparece muito nos livros da Elena Ferrante. Como a protagonista de “The Lying Life of Adults”, a opinião do meu pai sobre mim importava muito mais do que a da minha mãe até eu me libertar do masculino. Hoje a opinião dos dois tem peso igual. Por que o masculino tem esse peso? E por que aceitamos que o masculino nos diminua ao longo da vida? Em nome de quê? Volto à Elena Ferrante. Já disse isso muitas vezes: a personagem mais forte da série napolitana é Lila Cerullo. O masculino tentou moldá-la desde pequena. Lila apanhava do pai. Foi, aliás, jogada da janela de sua casa pelo próprio pai. Foi desejada pelos homens de todo o bairro. Foi espancada pelo marido. Foi detonada emocionalmente por Nino Sarratore. Mas Lila chega ao final da série não só sendo a menina forte que era quando criança mas também a mulher que mete medo no bairro todo, em mulheres e homens. Lila não se deixou moldar nem pelo masculino e nem pelo próprio feminino (já que o exemplo feminino em Nápoles era o de submissão). Lenù se adequa ao universo masculino constantemente ao longo da série. Lila rejeita esse universo e se constrói a partir da sua própria forma. A força de Lila é algo extraordinário. Se você chegou até aqui e é mulher, é isso o que eu desejo para você, para mim, para todas nós: façamos as nossas próprias formas. Elena Ferrante escreveu livros para nos mostrar que isso é possível.  Manuel Alcántara (foto do site da Fundación Manuel Alcántara) Manuel Alcántara (foto do site da Fundación Manuel Alcántara) Em 2006, quando ainda morava em São Paulo, fiz seis meses de aula de flamenco. Cheguei a aprender a dançar uma pequena sevillana inteira. O amor pelo flamenco foi à primeira vista. Talvez porque posso dançar sozinha. Ou porque a dor das músicas que embalam a dança não são puxadas de um lugar de tristeza, mas de força. As mulheres que dançam flamenco são fortes. As que cantam também. É o caso de Mayte Martín, cuja música descobri há três anos, quando morava em Camillus, NY. Estava voltando da universidade onde trabalhava quando o algoritmo do Spotify me depositou "Por la Mar Chica del Puerto" no carro. Ouvi a canção no repeat até chegar em casa. Passei meses ouvindo todos os discos dela. Nessa semana, Mayte voltou ao meu algoritmo. Só então percebi que o disco dela de que mais gosto - "Al Cantar a Manuel" - não canta só o flamenco, mas também a poesia. Nele, Mayte canta os poemas de Manuel Alcántara, jornalista e poeta espanhol, no ritmo e na dor do flamenco. "Por la Mar Chica del Puerto" e todas as outras músicas do disco nasceram como poemas. Todos podem ser lidos neste livro belíssimo de Alcántara, que reúne outros poemas, como o abaixo, um dos meus preferidos. Soneto para acabar un amor He quemado el pañuelo, por si acaso se pudiera tejer de nuevo el lino. Le sobra la mitad del vaso al vino y más de media noche al cielo raso. Tenía que pasar esto. Y el caso es que estando yo siempre de camino y estando tú parada, no te vi y no me ha cogido el amor nunca de paso. Puede que salga a relucir la historia porque nunca se acaba lo que acaba, que se queda a vivir en la memoria. Echa a andar el amor que te he tenido y se va no sé dónde. Donde estaba. De donde no debiera haber salido.  Eu gosto muito dos livros da Elena Ferrante porque ela retrata os homens como eles são: imaturos, egoístas e violentos. Sei que faço uma generalização com essa frase - meus dois irmãos, por exemplo, são o oposto disso - mas a verdade é que a massa dos homens pode ser descrita assim. Passei muito tempo esse ano tentando entender se havia alguma qualidade redentora em Nino Sarratore, o homem que consegue desestabilizar até a fortaleza chamada Lila Cerullo. Que Lenù se desestabilize por Nino é esperado. Lenù é ingênua, romântica, aérea. Lila não. Lila sabe onde pisa e pisa com a certeza de se saber quem é. Ela amedontra os homens. Em The Story of the Lost Child, o último livro da série napolitana, Ferrante escreve (em inglês pois só tenho os livros nesse idioma): “she was the terrifying woman who, stricken by a great misfortune, carried its potency with her. (...) Lila walked along the stradone with her fierce gaze, toward the gardens, and people lowered their eyes, looked in another direction”. Essa é a Lila que cai na fantasia que Nino Sarratore promete. A fantasia de um homem culto, sensível, misterioso. Não demora muito para Lila descobrir que Nino é só fachada. Por trás do cabelo preto enrolado e dos óculos pequenos está um adolescente imaturo e sem responsabilidade emocional. Nino passa pelas várias mulheres que aparecem nos livros da série napolitana como se elas não fossem mulheres, mas entidades fantasmagóricas. Quando Nino está tentando conquistar Lenù e acusa Pietro, o marido dela, de não apoiá-la profissionalmente, parece que ele, Nino, é um grande feminista. Mas quando está com Lenù, Nino sequer lembra que ela é escritora. O maior problema de Nino Sarratore talvez seja esse: ele despersonaliza cada uma das mulheres com as quais se relaciona. As bordas que definem as mulheres desaparecem. Lenù se sente burra ao lado dele. Ele faz com que Lila se sinta fraca. Escrever essas frases me deixa embasbacada porque as mulheres em geral sabem muito mais sobre a vida do que os homens. As bordas que formam as mulheres são fruto de amadurecimento precoce e constante (o que homens evitam a qualquer custo). O que Nino faz não é pouca coisa: ele desestrutura o produto do sofrimento de se ser mulher. E faz isso sendo um homem medíocre, medroso e incapaz de se responsabilizar por suas próprias ações. Ferrante escreve, “he was one of those adults who when they play with a child and the child falls and skins his knee behave like children themselves, afraid someone will say: It was you who let him fall.” Lenù e Lila sofrem para lidar com Nino, mas ao fim do último volume, aceitam que ele é o que se revela em suas atitudes (e não em suas palavras): amargo, intratável e sozinho. Nino chega aos 50 anos desassociado de qualquer relação humana que tenha algum significado. Ferrante diz: “Nino was what he wouldn’t have wanted to be and yet always had been”. Como herança, Nino deixou a Lenù uma filha, Imma. Nem a filha parece gerar compaixão no pai. Em um determinado momento, Lenù pensa ter gerado Imma com um fantasma. “He forgot about us - Dede, Elsa, Imma, and me - for a long period. He probably forgot about us as soon as I closed the door behind him”, diz Lenù. Nino tenta transformar as mulheres com as quais se relaciona em fantasmas, mas é ele próprio o fantasma. As mulheres seguem, vivas e lembradas. Os Ninos desaparecem pelo ar, como se nunca nem tivessem existido.  O parlamento islandês ("Althing") é o mais antigo corpo legislativo do qual temos registro O parlamento islandês ("Althing") é o mais antigo corpo legislativo do qual temos registro O legislativo nasceu em mim há onze anos. Na minha vida anterior, escrevi uma reportagem discutindo projetos de lei que tratavam da violência contra professores brasileiros. Um dos projetos chamou a minha atenção pelo cuidado com o qual lidava com o tema: o do senador Paulo Paim, que anos depois eu veria no plenário do Senado enquanto fazia pesquisa de campo para a minha tese de doutorado. Li o projeto e fiquei encantada com a possibilidade de resolver os problemas do mundo com a letra, o rito, a discussão e a decisão majoritária. Na reportagem, um especialista educacional diz que não se resolveria a violência docente com a edição de leis, mas o estrago em mim já estava feito: depois de ler o projeto de Paim, a ação legislativa passou a ter contornos mágicos na minha cabeça fabuladora de realidades. Fabulei sobre o legislativo durante os anos seguintes, até mesmo quando estudei o teorema da impossibilidade de Kenneth Arrow para os exames do doutorado (que põe em xeque a própria existência da arena legislativa). O Congresso se tornou um lugar mágico no meu imaginário de cientista social. Detectar um problema social, procurar uma solução para ele, escrever a solução em termos legais, encaminhá-la para diversos grupos de debate até ela ser votada por um grande grupo, um grupo formado por pessoas obrigatoriamente distintas e que precisam concordar sobre alguma parte da solução. Sei que processos assim, motivados pelo espírito público, são raros. Mas que apenas um processo desse tenha existido na história do mundo é algo que me coloca atrás de respostas sobre como mais deles possam existir. Foi em busca delas que escrevi uma tese de doutorado sobre o que explica a eficácia legislativa dos deputados brasileiros. Entre 2018 e 2019, passei quase seis meses na Câmara dos Deputados conversando com parlamentares e suas equipes, acompanhando reuniões de comissões, entrando e saindo do plenário, participando de reuniões com o presidente da Câmara (à época, Rodrigo Maia), lendo o Regimento Interno, indo em almoço de bancada temática e muitas vezes só andando pelos corredores dos anexos na esperança de me integrar fisicamente ao processo legislativo. Fiz o mesmo caminhando por dentro das comissões e do plenário. Sentei no salão verde em frente ao plenário e olhei para a movimentação de pessoas entrando e saindo enquanto falavam e alinhavavam. Na semana em que escrevo este texto, estou concluindo sete meses de trabalho como assistente legislativa de um deputado democrata na House of Representatives dos EUA. Ali me dediquei a aprender sobre um processo legislativo regido a regras e estruturas diferentes. Fui feliz no dia em que entendi o papel do Rules Committee (e quando concluí que uma comissão dessa seria inviável no contexto brasileiro). Mas fui feliz em tantas outras ocasiões. Trabalhei com emendas orçamentárias. Escrevi memorandos para guiar o meu deputado a falar com a imprensa. Escrevi um op-ed que ele assinou. Monitorei proposições em comissões e no plenário. Dei recomendações de voto diariamente. Participei de uma conversa com ele sobre se ele deveria ou não co-autorar um projeto de lei. Recomendei que ele co-autorasse diversos outros e que assinasse cartas chamando a atenção para problemas sociais. Falei com grupos de interesse e com eleitores. Visitei a sua base eleitoral. Propus uma emenda a um projeto de lei em nome dele (que infelizmente não foi para frente). Terminava todos os dias de trabalho cansada - a curva de aprendizagem é intensa e enorme - mas feliz, muito feliz. Fui feliz também entrando todos os dias no prédio do Congresso, que é um labirinto. Me perdi diversas vezes até decorar os caminhos para o gabinete, a cafeteria, o estacionamento. Andei no metrô que une os anexos até o plenário. Não pude entrar no plenário, mas caminhei pelos arredores da rotunda e debaixo da própria rotunda, onde passei algumas tardes. Olhei para tudo por todos os ângulos como se esperasse o processo legislativo se manifestar fisicamente diante dos meus olhos. O processo legislativo: essa ideia abstrata que, na verdade, significa o nosso processo, o processo pelo qual nós decidimos quais leis regirão o comportamento da sociedade em que vivemos. Há uma cena no seriado Borgen em que um político diz: “We forget that the bills are us. We are the law. The law is us”. Meu fascínio pelo legislativo está no espelho: ele reflete o que somos. Em Brasília, pude observar nós mesmos dentro do processo legislativo. Nos EUA, pude ser eu mesma o processo legislativo. Termino esse período mais encantanda pela contradição que define o legislativo: ele é a nossa lástima com o potencial de ser a nossa saída. Espero poder estudá-lo cada vez mais para entender em quais circunstâncias ele toma contornos de saída. I often go back to Hannah Arendt in moments of professional and personal crises. Yesterday as I read the news about the leak of a Supreme Court decision draft that would overturn Roe v. Wade I thought about her definition of education: the point at which we decide whether we love the world enough to assume responsibility for it and by the same token save it. We can think about citizenship in the same way. Becoming a citizen involves deciding that we love the world enough to assume responsibility for it. But how can we do that in a world that seems increasingly hostile?
I have developed a thick skin to assaults on freedom during the last years as both the country where I live (the United States) and where I am from (Brazil) are struggling with authoritarianism. But there is something about the rationale of the draft we have access to that felt like a punch in my stomach: Justice Samuel A. Alito says that women should not have abortion rights today because it was not customary for them to have those rights in the past. This justification erases the fight of women to obtain these rights - it is as if it had never existed. It erases us. It is hard to separate the fight for abortion rights from the fight to exist fully as a woman. My generation was already born into a societal structure that incentivizes us to act in whatever way we want because we are no different than men (even though I still deal with machismo on a daily basis). But my mom’s and my grandmother’s generations did not have that. Both of them suffered to exist in a patriarchal society that dictated what they thought and how they behaved. The fight for abortion rights signaled to society that our body is ours and no one else’s. No individual or institution should tell us how to make decisions about ourselves. Does anybody tell men what they should think or do? As I was driving to work this morning I pondered on how I am supposed to be a citizen and take responsibility for this world when I’m being denied my very existence. Pessimism had taken over me until I reached DC. By the highway, I saw a number of circulator bus drivers holding signs of protest as they are on strike. “We move this whole region”, one sign said. Yes, they do. And we, women, move this whole world. We continue to be citizens by imposing our existence (like the circulator bus drivers) in any way we can. We continue to be citizens by accepting our responsibility and taking ownership of the world. Em texto para a Folha de S. Paulo, eu e Mario Sergio Lima argumentamos que a melhor estratégia para combater os poderes excessivos do presidente da Câmara dos Deputados é fazer trabalho de oposição na base eleitoral daquele que ocupa esse cargo. Nosso argumento é ancorado no trabalho de E. E. Schattschneider, segundo o qual o resultado dos conflitos políticos são determinados pelo seu grau de contagiosidade. Como escrevemos no texto, a política não funciona como um jogo de cabo de guerra (em que só a força de uma das partes determina quem ganhará a disputa); quem assiste ao conflito também determina o resultado.
Entretanto, algumas pessoas apontaram que seria inócuo levar o trabalho de oposição para a base eleitoral de Arthur Lira, o atual presidente da Câmara. Isso porque o eleitor em Alagoas não se preocuparia com os mandos e desmandos de Lira, mas sim com as benesses que recebe via emendas orçamentárias (legais e ilegais). A crítica é bem fundamentada. A literatura em ciência política aponta o baixo nível de desenvolvimento econômico como uma das condições para a existência de clientelismo. Faz sentido: em um país em que muitas pessoas vivem com o mínimo de dinheiro, os recursos das emendas orçamentárias representam ganho concreto e significativo. Um brasileiro que mora município de Inhapi (AL), cujo índice de desenvovlimento humano é baixíssimo, não se importará com esquemas de corrupção de Lira se o seu município acaba de ganhar do mesmo uma ambulância. Mario e eu pensamos em “trabalho de oposição” como embarcando uma série de ações. A princípio, seriam atividades de contestação: protestos, outdoors e até shows como o que Caetano Veloso fez no Congresso em março para impedir a aprovação de um projeto de lei. Mas também consideramos que organizações da sociedade civil poderiam empenhar esforços em campanhas de educação cidadã. O ideal seria que esse trabalho fosse feito pelo Estado. Mas é difícil até pensar em levantar essa discussão diante do desmonte do Ministério da Educação no governo Jair Bolsonaro. O brasileiro médio pouco sabe como funciona o sistema político de seu país: o que é o pacto federativo, qual ente federado é responsável por que parte de seu cotidiano, como o voto dele para deputado federal, estadual e vereador se traduz no dia-a-dia, etc. Uma organização com a 342 Artes teria braço pensar em uma ação localizada de educação cívica em municípios que são relevantes para a reeleição de Arthur Lira. Faço esse argumento com base na literatura de ciência política*. A ideia de que o clientelismo está associado a baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico aparece no trabalho de Samuel Huntington já em 1968. Literatura mais recente explora a relação entre educação e/ou educação cívica e clientelismo e/ou compra de votos. De acordo com esses autores, a educação mina a compra de votos porque eleitores com níveis educacionais mais altos estão mais equipados para enxergar problemas sistêmicos e têm mais informação política para discutir os custos sociais dessa prática. Deixo mais referências sobre trabalhos que exploram esse tema abaixo. O que eu estou sugerindo vai dar certo? Não sei. Mas eu sou da turma que acha melhor tentar e dar errado do que não tentar e nunca saber o resultado. Referências Carlin, R. E., & Moseley, M. W. (2021). When Clientelism Backfires: Vote Buying, Democratic Attitudes, and Electoral Retaliation in Latin America. Political Research Quarterly. https://doi.org/10.1177/10659129211020126. Fox, Jonathan. 1994. “The Difficult Transition from Clientelism to Citizenship: Lessons from Mexico.” World Politics 46 (2): 151–84. Greene, Kenneth F. 2021. “Campaign Effects and the Elusive Swing Voter in Modern Machine Politics.” Comparative Political Studies 54 (1): 77–109. Pedro C. Vicente, Leonard Wantchekon, Clientelism and vote-buying: lessons from field experiments in African elections, Oxford Review of Economic Policy, Volume 25, Issue 2, Summer 2009, Pages 292–305. Stokes, Susan C., Thad Dunning, Marcelo Nazareno, and Valeria Brusco. 2013. Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics. Cambridge: Cambridge University Press. Vicente, Pedro C. 2014. “Is Vote Buying Effective? Evidence from a Field Experiment in West Africa.” The Economic Journal 124 (574): F356–87. *Outros fatores podem explicar a transição da política clientelista para a política programática, como configurações e timing da formação do Estado, instituições, arranjos de economia política e ideologia. Um resumo muito bom dessas perspectivas está neste artigo de Herbert Kitschelt. Obviamente essas visões não são mutuamente exclusivas. O meu próprio trabalho sugere o aparecimento de política programática na arena legislativa a partir da interação entre instituições e ideologia.  Tenho pensado muito sobre a minha família desde que a minha avó Odete se mudou de sua casa em Peruíbe para uma casa de repouso em São Paulo. Passei um mês em São Paulo entre dezembro e janeiro e pude visitá-la algumas vezes. Em uma dessas visitas, perguntei o que ela estava fazendo com tanto tempo livre. “Eu penso na minha vida”, ela disse. “Você pensa no vô?”, indaguei, ao que ela respondeu, “No seu avô e em tudo o que eu vivi”. Recebi a resposta dela com uma tristeza que não compreendi. Foi em busca de respostas para essa tristeza que peguei um calhamaço de fotos antigas e trouxe comigo para cá. São fotos da casa dela no Campo Limpo, de reuniões de família, de mim e do meu irmão do meio pequenos, do meu avô – muitas fotos do meu avô. Tenho passado manhãs e noites olhando para essas fotos e escrevendo sobre o meu avô. Ernesto Policicio era o nome dele, mas nós o chamávamos de Bolão por conta da barriga de chope (e ele então apelidou a minha mãe - que não tinha barriga de chope - de Bola). Meu avô era, na média, um sujeito quieto e solitário. Passava parte do tempo sentado no murinho da casa dos meus avós ouvindo jogo ou música sertaneja no seu radinho de pilha. A outra parte ele passava em um quartinho na laje que abrigava um barril de cachaça e tranqueiras (ninguém lembra o que eram). Às vezes, jogava dominó com o pessoal da borracharia em frente de sua casa. De vez em quando, ele perdia as estribeiras. Uma vez, o cachorro dele (Neco ou Zulim, o nome variava de acordo com o dia) foi atacado por outro na rua. Ele entrou fulo da vida em casa pronto para pegar uma arma. “Onde o senhor vai, seu Ernesto?”, meu pai perguntou. “Vou matar aquele cachorro filho da puta que atacou o Neco”, ele esbravejou. Ainda bem que o meu pai estava lá para evitar a tragédia canina. Outra vez minha mãe, ainda pequena, estava no banheiro tomando banho, e meu avô precisava fazer o número dois. “Ai meu deus do céu, ai minha virge maria, sai do banheiro, Bola!”, ele implorava na porta do banheiro, como se o mundo fosse acabar. Ele cultivava curiosidade sobre o mundo. Trabalhou como mecânico por anos, mas o desejo de ter um salário melhor fez com que ele se esforçasse para ser fiscal de feira da prefeitura de São Paulo. Tinha uma máquina fotográfica que usava para registrar a sua vida. Queria viajar com o passaporte que tirou na década de 90, inclusive para a Itália, de onde a família dele (complicadíssima, parte da qual se suicidou) vem. Voltou para a escola para completar o ensino médio aos 50 anos e terminou o supletivo cheio de orgulho. O lado doce dele poucos conheceram. Vovô comprou um gravador de fita cassete com microfone para eu e meu irmão cantarmos nas tardes em que ficávamos com ele. Vovô também gostava de Natal porque via magia nas músicas natalinas. Vovô se emocionava ao ouvir a música “No Woman, No Cry”, de Bob Marley. Vovô gostava de me ver comendo e dizer “mangia che te fa bene!”. Quando minha mãe teve o terceiro filho, vovô a acalmou: “filha, eu fico com o Tutu do jeito que fiquei com o Gui, você vai poder continuar trabalhando”. Não deu tempo de ele cuidar do Tutu. Um dia, a asma e a bronquite o levaram para o hospital. Voltou de lá branco, quase transparente. Colocaram-no para dormir na sala da casa dos meus avós. Ali, ele me chamou e pediu gelatina colorida. A última imagem que eu tenho dele é esta: eu aos nove anos com os meu braços pequenos e finos entregando um copo de sobremesa com gelatina colorida para ele. Nunca mais o vi. Um dia ele existia, no outro deixou de existir, e eu fiquei aqui, nessa terra, sem o avô que eu tanto curtia ter. Em uma das fotos que eu trouxe comigo, estou comendo bisnaguinha e bolacha Maizena enquanto ele lê o jornal na sala da casa dos meus pais. Não sei dizer quantas horas já passei olhando para essa foto. Ontem, olhando bem para ela, tentei decifrar o meu avô: as frustrações que as linhas do rosto dele escondiam; o gosto pela solidão (será que é hereditário?); a relação dele com a bebida; o casamento aos trancos e barrancos com a minha avó; a inquietude que ele carregava mas não mostrava; o sentimento dele em relação à própria família; o significado de ser pai de dois filhos (minha mãe e meu tio) tão diferentes; e a expectativa dele para o futuro para além de morar na beira da praia. Só então entendi a tristeza que senti quando ouvi a minha avó na casa de repouso: ao contrário dela, que permanece viva até os 84 anos, o meu avô não teve a oportunidade de pensar sobre o que viveu. Ele deixou de existir subitamente aos 65 anos, e com a sua ida, apagou-se a sua trajetória sem que ele pudesse pensar sobre ela. Por isso eu trouxe as fotos de família comigo. Por isso eu escrevo sobre ele. Lá de cima, vovô está pensando sobre o que viveu através de mim. |
AuthorBeatriz Rey is a political scientist and a writer based in Washington, D.C. Archives
February 2023
Categories |
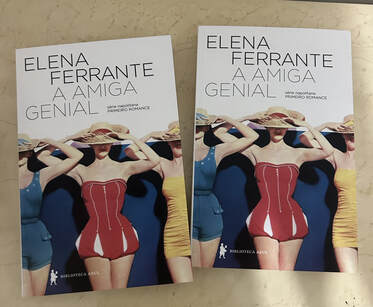
 RSS Feed
RSS Feed